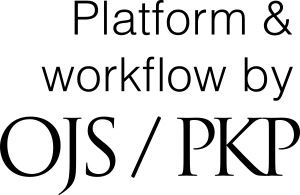ACCURACY AND INTONATION IN THE RELATIONSHIP BETWEEN FLUENCY AND READING COMPREHENSION IN STUDENTS OF THE 4TH GRADE OF ELEMENTARY SCHOOL
DOI:
https://doi.org/10.54221/rdtdppglinuesb.2019.v7i1.164Keywords:
Accuracy, Prosody, Fluency, Comprehension, CognitionAbstract
ABSTRACT
The Psycholinguistics has contributed to a better understanding of many aspects of language processing, including with regard to the cognitive processes that underlie the acquisition and the initial reading learning, the fluency and the reading comprehension, themes on which this study is concentrated. Based on psycholinguistics theoretical assumptions, in relation to the cognitive process of reading, including and specially by means of Bottom-up and Top-down and Dual Rote models and, also, based on literature review studies which deals with the relationship between fluency and reading comprehension, this study aims to evaluate the relationship between fluency and reading comprehension. The reading fluency was evaluated by means of the time available for the oral reading, by the grapheme-phoneme conversion accuracy criterion and by the prosody. The reading comprehension was evaluated through attributed answers to open questions of read text comprehension. Participate in the research 190 students of the fourth grade of elementary school, between 9 and 13 years old, of both sexes, of public and private schools in the interior of Bahia. The data, of non-experimental and cross-sectional character, were tabulated and processed qualitatively and quantitatively, by means of descriptive analysis and correlation, through the Correlation Coefficient of Pearson. In order to verify the acoustic parameters that characterized the punctuation marks in the students’ reading, the data were submitted to the computer program PRAAT. The results in the grafophonemic Conversion Time relationship versus conversion Accuracy, presented a positive strong and correlation (r=0,759) and significant with value p 0,000. In the grafophonemic Conversion Time relationship versus Reading Comprehension, we find a strong and negative correlation (r=-0,654), with value p 0,000. Between grafophonemic Conversion Accuracy and Reading Comprehension, the correlation coefficient was of r=- 0,625, that is, a strong and negative correlation and a statically significant correlation with value p 0,000. We observe that more fluent readers use, preferable, the lexical rote and the descending model and less fluent readers use, preferable, the phonological rote and the ascending model. With regard to the prosody, we found that the proper performance of the intonation, originated by presence of the punctuation markers in the written text, tends to occur in students that present more fluent reading collaborating to a strong performance in comprehension. When we compare students with more fluent reading and students with less fluent reading, we observe that melody variations in readers with more automated, present prosody behavior closer than what is expected to the presence of particular punctuation marker; also, the F0 curve presented significant values of p between the groups characterized as more fluent. The more fluent reader has a better performance in the voice speed, accuracy and prosody. The lack of graphemes automated recognition imposes higher cost of cognitive processing, that is, the processing by phonological and ascending paths seems to consume the essentiality limited range of work memory cognitive resources, as a consequence, remain few cognitive resources to access the meaning.
Downloads
References
ALLIENDE, F.; CONDEMARÍN, M. Leitura das séries intermediárias. In: ______. A leitura: teoria, avaliação e desenvolvimento. 8. ed. Porto Alegre: Artmed. 2005. p. 86-87.
AURES, M. et al. BioEstat 2.0. Belém: editora da Universidade Federal do Pará, 2000.
ANDERSON, J. Memória e Aprendizagem. Rio de Janeiro: Livros Téc. e Cient. Editora 2005.
ARCAND, M. S. et al. (2014). Segmenting texts into meaningful word groups: Beginning readers’ prosody and comprehension. Scientific Studies of Reading, 18(3), 1-16.
ARDOIN, S. P.; MORENA, L. S.; BINDER, K. S.; FOSTER, T. E. (2013). Examining the impact of feedback and repeated readings on oral reading fluency: Let’s not forget prosody. School Psychology Quarterly, 28(4), 391-404.
ÁVILA, C. R. B.; CARVALHO, C. A. F.; KIDA, A. S. B. Parâmetros de Fluência e Compreensão de leitura . In: BARBOSA, T.; CAPELLINI, S. A.; MOUSINHO, R. Temas para Dislexia. São Paulo: Artes medics, 2009. p. 103-113.
BADDELEY, A. The episodic buffer: A new component of working memory? Trendsin Cognitive Sciences, Volume 4, Edição 11, pp. 417-423, 2000.
BINDER, K. S. et al, (2013). Reading expressively and understanding thoroughly: An examination of prosody in adults with low literacy skills. Reading and Writing, 26(5), 665-680.
BOVO, E. B. P.; LIMA, R. F. de; SILVA, F. C. P. da; CIASCA, S. N. Relações entre as funções executivas, fluência e compreensão leitora em escolares com dificuldades de aprendizagem. Revista Psicopedagogia, 2016; v. 33, n. 102: p. 272-282.
BOUJON, C.; QUAIREAU, C. Atenção e aproveitamento escolar. Tradução de Ana Paula Castellani. São Paulo: Loyola, 2000.
BREZNITZ, Z. Fluency in Reading: synchronization of process. Mahwah: Laurence Erlbaum, 2006.
CAFIERO, D. Leitura como processo: caderno do professor. Belo Horizonte: Ceale/FaE/UFMG, pp. 1-68, 2005. Disponível em: <http://www.ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/files/uploads/Col.%20Alfabetiza%C3%A7%C%A3o%20e%20Letramento/Col%20Alf.Let.%2004%20Leitura_como_processo.pdf>. Acesso em: 23 set. 2017.
CAGLIARI, L. C. Elementos de fonética do português brasileiro. São Paulo: Paulistana, 2007.
CAGLIARI, L. C. Marcadores prosódicos na escrita. In: SEMINÁRIO DO GRUPO DE ESTUDOS LINGÜÍSTICOS, 18, 1988, Lorena. Anais do XVIII Seminário do Gel. Lorena: Grupo de Estudos Lingüísticos de São Paulo, 1988. p. 195-203
CAGLIARI, L. C. Marcadores prosódicos na escrita. In: SEMINÁRIO DO GRUPO DE ESTUDOS LINGÜÍSTICOS, 18, 1989, Lorena. Anais do XVIII Seminário do Gel. Lorena: Grupo de Estudos Lingüísticos de São Paulo, 1989. p. 195-203.
CAGLIARI, L. C. Da importância da prosódia na descrição de fatos gramaticais. In: ILARI, R. (Org.). Gramática do português falado: níveis de análise linguística. 4. ed. rev. Campinas: Editora da Unicamp, 2002. v. 2. p. 37-60.
CAGLIARI, L. C. A escrita do Português arcaico e a falsa noção de ortografia fonética. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LUSITANISTAS, 5, 1998, Oxford. Actas... Oxford: Associação Internacional de Lusitanistas - AIL, 1998. v. 1. p. 57-69.
CAMARA Jr., J. J. M. Princípios de linguística geral. 6. ed. Rio de Janeiro: Padrão, 1980.
CAPOVILLA, F. C.; SILVEIRA, F. B. O desenvolvimento da consciência fonológica, correlações com leitura e escrita e tabelas de estandardização. Ciência Cognitiva: Teoria, Pesquisa e Aplicação, 2(3), pp.113-160. 1998.
CARDOSO-MARTINS, C. Existe um estágio silábico no desenvolvimento da escrita em português? Evidência de três estudos longitudinais. In: MALUF, M. R.; CARDOSO MARTINS, C. Alfabetização no Século XXI: Como se Aprende a Ler e a Escrever. Porto Alegre: Penso, 2013, pp. 82-107.
CARVALHO C. A. F.; ÁVILA C. R. B.; CHIARI B. M. Níveis de compreensão de leitura em escolares. Pró-Fono Revista de Atualização Científica, Barueri, v. 21, n. 3, p. 207-12, jul./set. 2009.
COSTA, J. C. da; PEREIRA, V. Linguagem e cognição: relações interdisciplinares. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2011.
COLTHEART, M.; CURTIS, B.; ATKINS, P.; HALLER, M. Models of reading aloud: Dual-Rote and parallel-distributed processing approaches. Psychological Review, v. 100, n. 4, 1993. p. 589-608.
COLTHEART, Max. Modeling reading: the dual-route approach. In: SNOWLING, Margaret J.; HULME, Charles (Eds.). The science of reading: a handbook. Oxford: Blackwell, 2013. p. 6-23.
CRYSTAL, D. (1941). Dicionário de Linguística e Fonética. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000.
DANCEY, C. P.; REIDY, J. Estatística sem matemática para psicologia: usando SPSS para Windows. Porto Alegre: Artmed, 2006.
DEHAENE, S. Signatures of Consciousness: a talk by Stanislas Dehaene. Edge in Paris, 2007. Entrevista concedida a Edge Foundation. Disponível em: <http://www.edge.org/3rd_culture/dehaene09/dehaene09_index.html>. Acesso em: 15 jul. 2007.
DEHAENE, S. Os neurônios da leitura: como a ciência explica a nossa capacidade de ler. Porto Alegre: Editora Penso, 2012.
DE OLIVEIRA FONTES, M. J.; CARDOSO-MARTINS, C. Efeitos da leitura de histórias no desenvolvimento da linguagem de crianças de nível sócio-econômico baixo. Psicologia: Reflexão e Crítica, v. 17, n. 1, p. 83-94, 2004.
DUBOIS et alii (1973). Dicionário de Linguística. Ed. Cultrix, 2000.
ELLIS , A. W. Leitura, escrita e dislexia: uma análise cognitiva. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.
ELLIS, A. W.; YOUNG, A. W. Human Cognitive Neuropsychology. London: Lawrence Erlbaum Associates, 1988.
EHRI, L. C. Reconceptualizing the development of sight word reading and its relationship to recoding. In: GOUGH, Philip B.; EHRI, L. C.; TREIMAN, Rebecca (Eds.). Reading acquisition. Hillsdale, NJ: Erlbaum, 2013. p. 107-144.
EHRI, C. Aquisição da habilidade de leitura de palavras e sua influência na pronúncia e na aprendizagem do vocabulário. In: MALUF, M. R.; CARDOSO-MARTINS, C. Alfabetização no Século XXI: Como se Aprende a Ler e a Escrever. Porto Alegre: Penso, 2013. p. 49-81.
FAYOL, M. Aquisição da escrita. Tradução Marcos Bagno. 1. ed., São Paulo: Parábola Editorial, 2014.
FARACO, C. A. Linguagem escrita e alfabetização. 1. ed., 1ª reimpressão – São Paulo: Contexto, 2016.
GIL, A. C. Como eleborara projetos de pesquisa. 6. ed. São Paulo : Atlas, 2008.
GODOY, D. M. A. Aprendizagem inicial da leitura e da escrita no português do Brasil: Influência da consciência fonológica e do método de alfabetização. Tese de Doutorado não publicada, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, 2005.
GOODMAN, K. S. O processo de leitura: considerações a respeito das línguas e do desenvolvimento. In: FERREIRO, E.; PALACIO, M. G. Os processos de leitura e escrita: novas perspectivas. 3. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1987. p. 11-22.
GOLDSMITH, J. Autosegmental phonology. Ph.D. Dissertation, Cambridge, MA: MIT, 1976.
GOMBERT, J. E. Epi/Meta versus implícito/explícito: nível de controle cognitivo sobre a leitura e sua aprendizagem. In: MALUF, M. R.; CARDOSO-MARTINS; C. Alfabetização no Século XXI: Como se Aprende a Ler e a Escrever. Porto Alegre: Penso, 2013. p. 108-123.
GUARESI, R. Influência da leitura no aprendizado da escrita: uma incursão pela inconsciência. In: PEREIRA, V. W.; GUARESI, R. (orgs.). Estudos sobre a leitura: Psicolinguística e interfaces. EDIPUCRS. Porto Alegre, 2012. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/22194>. Acesso: 28 mar. 2016. p. 63-75.
GUARESI, R. Repercussões de descobertas neurocientíficas ao ensino da escrita. Revista da FAEEBA – Educação e Contemporaneidade. Salvador, v. 23, n. 47, p. 51-62, jan./jun., 2012.
GUARESI, R. Alfabetização e letramento: é possível qualificar o ensino de língua materna no Brasil ? Curitiba, PR ; CRV, 2017.
HILLIS, A. E.; CARAMAZZA, A. The reading process and its disorders. In: MARGOLIN, D. I. (Org.), Cognitive neuropsychology in clinical practice. New York, Oxford: Oxford University Press, 1992. p. 229-261.
IZQUIERDO, I. Memória. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.
JUDGE, S. (2013). Longitudinal predictors of reading achievement among at-risk children. Journal of Children and Poverty, 19(1), 1-19.
KATO, M. A. No mundo da Escrita: Uma perspectiva psicolinguística. Editora Ática. Série Fundamentos, São Paulo, 1999.
KATO, M. A. O aprendizado da Leitura. 3. ed. São Paulo: Livraria Martins Fontes Editora LTDA, 1990.
KIDA, A. S. B.; CHIARI, B. M.; ÁVILA, C. R. B. Escala de leitura: proposta de avaliação das competências leitoras. Revista da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, São Paulo, v. 15, n. 4, p. 546-53, dez. 2010.
KIPPER, E. Inferências e compreensão leitora. In: PEREIRA, V. W.; GUARESI, R. (orgs.) Estudos sobre Leitura: Psicolinguística e Interfaces. Porto Alegre, 2012. p. 115-126. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/22194>. Acesso: 28 mar. 2016.
KLEIN, A. I.; BOEFF, R. J. A linguagem e a memória operacional. In: PEREIRA, V. W.;GUARESI, R. (orgs.). Estudos sobre a leitura: Psicolinguística e interfaces. EDIPUCRS. Porto Alegre, 2012. p.12-20. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/22194>. Acesso em: 28 mar. 2016.
KUHN, M. R.; SCHWANENFLUGEL, P. J.; MEISINGER E. B. Aligning theory and assessment of reading fluency: automaticity, prosody, and definitions of fluency. Reading Research Quarterly, Newark, v. 45, n. 2, p. 230-251, Apr./June 2010.
KUHN, M. R.; STAHl, S. A. (2003). Fluency: A review of developmental and remedial practices. Journal of Educational Psychology, 95(1), 3-21.
MACHADO, G. Aspectos cognitivos envolvidos no processamento da leitura: contribuição das neurociências e das ciências cognitivas. In: PEREIRA, V. W.; GUARESI, R. (orgs.) Estudos sobre Leitura: Psicolinguística e Interfaces. EDIPUCRS. Porto Alegre, 2012.
Disponível em: <http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/estudossobreleitura.pdf.>. Acesso: 25 de julho de 2016.
MADUREIRA. S. Entoação e síntese de fala: modelos e parâmetros. In: SCARPA, E. M. (Org.). Estudos de prosódia. Campinas: Ed. da Unicamp, 1999. p. 53-68.
MALUF, M. R. Metalinguagem e Aquisição da Escrita: contribuições da pesquisa para a prática da alfabetização. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2003.
MALUF, M. R.; SARGIANI, R. de A. Alfabetização e Metalinguagem: 09 condições para o ensino eficiente da linguagem escrita. In: NASCHOLD, A. C.; PEREIRA, A.; GUARESI, R.; PEREIRA, V. W. (org.). Aprendizado da leitura e da escrita: a ciência em interfaces. – Natal: Edufrn, 2015. p. 233-252. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/22194>. Acesso: 18 maio 2016.
MARTINS, M. A.; CAPELLINI, S. A. Fluência e compreensão da leitura em escolares do 3º ao 5º ano do ensino fundamental. Estudos de Psicologia (Campinas), p. 499-506, 2014.
MORAIS, J. A arte de ler. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1997.
MORAIS, J. Alfabetizar para a democracia. Porto Alegre: Penso, 2014.
MORAIS, J.; LEITE, I.; KOLINSKY, R. Entre a pré-leitura e a leitura hábil: Condições e patamares da aprendizagem. In: MALUF, M. R.; CARDOSO-MARTINS. Alfabetização no século XXI – como se aprende a ler e escrever. Porto Alegre: Editora Penso, 2013.
MOUSINHO, R. et al. Compreensão, velocidade, fluência e precisão de leitura no segundo ano do ensino fundamental. 2009.
NASCIMENTO, T. A. et al. Fluência e compreensão leitora em escolares com dificuldades de leitura. J. Soc. Bras. Fonoaudiol., v. 23, n. 4, p. 335-43, 2011.
OCDE. PISA 2006: Competências em ciências para o mundo de amanhã. V.1. São Paulo: Editora Moderna, 2008. Disponível em: <http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/free/980701ue.pdf>. Acesso em: 14 abr. 2018.
PACHECO, V. Percepção dos sinais de pontuação enquanto marcadores prosódicos. Revista de Estudos da Língua(gem), Vitória da Conquista, n. 3, p. 205-232, jun. 2006.
_______. Leitura e prosódia: o caso dos sinais de pontuação. In: FONSECA-SILVA, M. C.; PACHECO, V; LESSA-DE-OLIVEIRA, A. S. C. (Org.). Em torno da Língua(gem): questões e análises. Vitória da Conquista: Edições UESB, 2007, p.41-70.
______. Efeito dos Marcadores Prosódicos na Leitura de Textos do Português do Brasil (resumo). In: III Congresso Internacional da ABRALIN, 2003, Rio de Janeiro. Resumo, 2003.
______. Investigação fonético-acústico e experimental dos sinais de pontuação enquanto marcadores prosódicos. Dissertação (mestrado em Lingüística) 132 f. Instituto de Estudos da Linguagem, Unicamp, Campinas, 2003.
PEGADO, F. Aspectos cognitivos e bases cerebrais da alfabetização: um resumo para o professor. In. PEREIRA, V.; NASCHOLD, A.; GUARESI, R.; PEREIRA, A. Aprendizado da leitura. Natal: EDUFRN. 2015.
PEREIRA, V. W. Aprendizado da leitura e consciência linguística. In: IX ENCONTRO DO CELSUL, Palhoça, SC. Anais... Palhoça: Universidade do Sul de Santa Catarina, 2010, p. 1-11.
PINHEIRO, A. M. V. Leitura e escrita: Uma abordagem cognitiva. Campinas: Editorial Psy, 1994.
PINHEIRO, A. M. V. (1995). Dificuldades específicas de leitura: a identificação de déficits cognitivos e a abordagem do processamento de informação. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 11, p. 107-115.
PINHEIRO, A. M. V. Instrumento computadorizado de avaliação cognitiva dos processos de leitura em crianças. Trabalho apresentado no I Simpósio de Informática Educativa da Universidade Federal de Juiz de Fora, MG, 2008.
PINHEIRO, A. M. V.; PARENTE, M. A. M. P. (1999). Estudo de caso de um paciente com dislexia periférica e as implicações dessa condição nos procedimentos centrais. Pró-fono Revista de Atualização Científica, v. 11, p. 115-123.
PIPER, F. K. XIII Semana de Letras: letras no mundo. A importância da memória de trabalho para a aprendizagem. XIII Semana de Letras: #letrasnomundo. Anais... 2013, Porto Alegre. 2014. Disponível em: <http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/anais/XIII_semanadeletras/pdfs/francielipiper.pdf>. Acesso em: 18 jan. 2018.
PULIEZI, S.; MALUF, M. R. A fluência e sua importância para a compreensão da leitura. Psico-USF, v. 19, n. 3*, p. 467-475, 2014.
SALLES, J. F.; PARENTE, M. A. M. P. Processos cognitivos na leitura de palavras em crianças: relações com compreensão e tempo de leitura. Psicologia: Reflexão e Crítica, 15, 2002.
SANTOS M. T.; NAVAS A. L. Distúrbios de leitura e escrita- teoria e prática. São Paulo: Manole, 2004.
SAUSSURE, F. de. Curso de Lingüística Geral. 2. ed. São Paulo: Cultrix, 2006
SCARPA, E. M. Apresentação. In: ______.(Org.). Estudos de prosódia. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 1999, p. 7-17.
SCLIAR-CABRAL, L. Processamento bottom-up na leitura. Veredas On-line – Psicolinguística – 2/2008, p. 24-33 – PPG LINGÜÍSTICA/UFJF – Juiz de Fora - ISSN 1982-2243, 2009.
_______. Introdução à Psicolinguística. São Paulo: Ática, 1991.
_______. Psicolingüística e neurolingüística. Cadernos de Estudos Lingüísticos (UNICAMP), Campinas, SP, v. 32, p. 37-48, 1997.
______. Princípios do sistema alfabético do português do Brasil. São Paulo: Contexto, 2003.
SMITH, F. Leitura significativa. Porto Alegre: Artes Médicas, 1999.
SMITH, F. Compreendendo a leitura. Porto Alegre: Artes Médicas, 2003.
SNOWLING, M. J.; HULME, G. (Eds.). A ciência da leitura. Porto Alegre: Penso Editora, 2010. p. 245-265
SOARES, M. B. Alfabetização: a questão dos métodos. Editora Contexto, 2016.
SOLÉ, I. Estratégias de Leitura. Porto Alegre; Artes Médicas,1998.
STREY, C. Resumo: a relevância do objetivo de leitura. In: PEREIRA, V. W.; GUARESI, R. (orgs). Estudos sobre a leitura: Psicolinguística e interfaces. EDIPUCRS. Porto Alegre, 2012. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/22194>. Acesso: 28 mar. 2016.
TRUBETZKOY, N. (1933). Grundzüge der Phonologie. Göttingen: Vandenhoek; Ruprecht.
WECHSLER, D. Escala Wechsler de Inteligência para Crianças – Quarta Edição (WISC IV). São Paulo: Casa do Psicólogo, 2013.
ZIEGLER, J. C.; GOSWAMI, U. Reading acquisition, developmental dyslexia, ans skilled readind across languages: A psycholinguistic grain theory. Psychological Bulletin. Vol. 131, 2005.