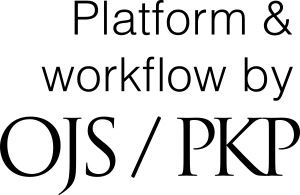DIALOGANDO COM FLORES A RESPONSIVIDADE NAS CONVERSAS COM JOVENS COM T21: UMA REFLEXÃO NUMA PERSPECTIVA DE BASE HISTÓRICO-CULTURAL
DOI:
https://doi.org/10.54221/rdtdppglinuesb.2024.v12i1.291Palavras-chave:
Sujeito da Linguagem; Responsividade; Interação; Trissomia do cromossomo 21; Mediação Social e Inclusão.Resumo
Este estudo tem por objetivo investigar de que forma os sujeitos com Trissomia do cromossomo 21 (T21) adotam atitudes responsivas nas alternâncias de turnos de fala em situações dialógicas. Outrossim, busca também investigar de que maneira a mediação social poderá contribuir para o aprimoramento da competência enunciativo-discursiva desses sujeitos. A pesquisa parte das hipótese de que, 1) considerando a dificuldade de linguagem estabelecida pela deficiência intelectual em sujeitos com Trissomia do cromossomo -T21, o fluxo discursivo desses sujeitos pode ficar prejudicado, comprometendo sua atitude responsiva nas situações dialógicas, entretanto, eles podem alcançar uma responsividade mais eficiente se forem oferecidos modelos de uso da linguagem para que, ao internalizá-los, possam utilizá-los nos diversos contextos nos quais estão inseridos. 2) Entendendo que o desenvolvimento se inicia na esfera interpsíquica e depois na esfera intrapsíquica, o mediador social terá papel essencial, pois ao agir intencionalmente, ele pode conduzir da melhor forma a apropriação dos elementos culturais, operando de modo efetivo na constituição do sujeito da linguagem, sobretudo frente às dificuldades que ele apresenta em tomar uma atitude responsiva. Considerando a linguagem como ação que se estabelece nas relações sociais dentro de uma realidade histórica e cultural. Dessa forma, trazemos para essa arena de discussão os postulados bakhtinianos e vigotskianos. Este por considerar que as funções mentais superiores são modeladas no curso da história da humanidade por meio da relação que estabelece com o outro e com o meio social mediada pela linguagem. Aquele por postular que as palavras comportam significados socialmente construídos, mas que ao serem enunciadas, permitem sentidos diversos tendo em vista a realidade dos interlocutores, assim como o contexto da interlocução. Trata-se de um estudo qualitativo ancorado no modelo de natureza microgenética (Goes, 2000), pois este modelo busca realçar um evento em particular, mediante ao que logra a compreensão de processos mais gerais, isto é, o essencial é não apenas o fato, mas como acontece o fato. Logo, foca-se aqui no processo de desenvolvimento da linguagem do sujeito. Para tanto, elencamos quatro jovens com T21 do gênero feminino para participar da pesquisa. Foram analisas três situações interativas conversacionais coletadas em rodas de conversas virtuais, uma vez que se tratava de uma coleta de dados realizada no contexto da pandemia da Covid 19. Por meio de acompanhamentos semanais e utilizando a Plataforma Meet como suporte, espaço que oportunizou que diversas atividades fossem desenvolvidas. Os resultados confirmam as hipóteses apontando que os sujeitos com T21 podem alcançar uma atitude responsiva mais eficiente se forem oferecidos modelos de uso da linguagem para que, ao internalizá-los, possam utilizá-los nos diversos contextos os quais estão inseridos.
Downloads
Referências
ALMEIDA, E. S. S. Demência de Alzheimer: a constituição do sujeito através da referenciação dêitica/ Emanuelle de Souza da Silva Almeida. Dissertação. V. da Conquista, 2012.
BAKHTIN, Mikhail. Os gêneros do discurso. Organização, tradução, posfácio e notas de Paulo Bezerra. São Paulo: Editora 34, 2016.
BAKHTIN, M. M. Estética da Criação Verbal. 4. ed. 2a. tiragem. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
BAKHTIN, M. M. Para uma filosofia do ato responsável. São Carlos, Pedro & João Editores, 2010.
BAKHTIN, M. M. De los borradores. In: BAKTHIN, M. M. Hacia una filosofía del acto ético. De los borradores: y otros escritos. Rubí (Barcelona): Anthropos; San Juan: Universidade de Puerto Rico, 1997. p.138-180.
BAKHTIN, M. M/VOLOSHINOV, V.N. Marxismo e filosofia da linguagem. Problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. São Paulo: Editora Hucitec, 1992.
BARROCO, S. M. S. A educação especial do novo homem soviético e a psicologia de L. S. Vigotski: implicações e contribuições para a psicologia e a educação atuais. 414 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Educação da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Araraquara. 2007.
BENVENISTE, Emile. Problemas de Linguística geral I. 4 ed. Campinas, SP: Pontes,1966.
BENVENISTE, Emile. Problemas de Linguística geral II. 2 ed. Campinas, SP: Pontes,1974.
BLANCFORT, H.C; Valls, A.T. Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso. Editorial Ariel, Barcelona, 2008.
BRANDIST, Craig. Mikhail Bakhtin e os primórdios da sociolingüística soviética (trad. Carlos Alberto Faraco). In: Carlos Alberto FARACO; Cristóvão TEZZA & Gilberto de CASTRO (orgs). Vinte ensaios sobre Mikhail Bakhtin. Petrópolis: Vozes, 2005.
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Educação é a Base. Ensino Médio. Brasília: Ministério da Educação, 2018.
CARNEIRO, Maria Sylvia Cardoso. Adultos com Síndrome de Down: a deficiência mental como produção social. Campinas – SP: Papirus, 2008.
CASTILHO, Ataliba T. de; CASTILHO, Célia M. M. de. Advérbios modalizadores. In: ILARI, Rodolfo (Org.). Gramática do português falado. 4.ed. rev. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2002.
CERUTTI-RIZZATTI E GOULART. O ato de dizer em eventos de letramento: articulações entre arquitetônicas distintas. In: Letramentos e gênerostextuais/discursivos: aproximações e distanciamentos / Organizadores: Lília Santos Abreu-Tardelli, Fabiana Komesu. Belo Horizonte: Editora PUC Minas, 2018.
CERUTTI-RIZZATTI, Mary Elizabeth. Letramento: uma discussão sobre implicações de fronteiras conceituais. Educação e sociedade, Campinas, v. 33, n.18, p. 291-305, jan./mar. 2012.
CERUTTI-RIZZATTI, Mary Elizabeth.; DAGA, Aline Cassol; CATOIA DIAS, Sabatha. Intersubjetividade e intrassubjetividade no ato de ler: a formação de leitores na Educação Básica. Caleidoscópio, Unisinus, v. 2, n. 12, maio/ago 2014.
CHOMSKY, N.; HALLE, M. The Sound Pattern of English. New York: Harper&Row, 1968.
COENGA, R.; BRAZ, A. P.; SOUZA, I. A. D; REIS, K. R. D. & PIMENTA, O.N. Portadores de síndrome de down: as experiências de letramento na APAE. 2008.
COUDRY, M.H. Linguagem e afasia: uma abordagem discursiva da neurolinguística. Cadernos de estudos linguísticos. Campinas, V. 42, N. 42, PÁG. 99-129, 2002.
COUDRY, M.I.H.; FREIRE, F. M. P. Pressupostos teórico-clínicos da Neurolingüística Discursiva (ND). In: COUDRY, M. I. H. (Org.). Caminhos da Neurolinguística Discursiva: teorização e práticas com a linguagem. Campinas: Mercado de Letras, 2010. p. 23-48
DAVYDOV, V.V. e Radzikhoovskii, L.A. Vygotsky's Theory and the Activity Oriented Approach in Psychology. Em J.V. Wertsch (org.), Culture, Communication and Cognition: Vygotskian Perspectives. N.Y.: Cambridge University Press, 1985.
DIAZ- RODRIGUEZ, Félix; BEGROW, Desirré. A importância da mediação na aprendizagem numa visão vigostskiana. In: TENÒRIO, Robinson; LORDELO, José Albertino (Orgs) Educação Básica. Salvador: EDUFBA, 2009.
DIAZ-RODRIGUEZ, Félix.: Inter-relação entre as zonas de desenvolvimento e a aprendizagem. In: TENÒRIO, R. & LORDELO, J. A. (Orgs) Educação Básica: Contribuições da Pós graduação e da pesquisa. Salvador: Edufba, 2010. Salvador, 2010.
DIONÍSIO A. P. Análise da Conversação. In: Mussalin F, Bentes AC. (Orgs). Introduçäo à linguística: domínios e fronteiras. V.2.São Paulo: Cortez, 2001.
FIORIN, José Luiz. A linguagem em uso. In: FIORIN, José Luiz (org). Introdução à linguistica: objetos teóricos. São Paulo: Contexto, 2006.
FRANCHI, C. Linguagem, atividade constitutiva. in Almanaque, 5. São Paulo:Brasiliense, 1977.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo, Paz e Terra, 2011.
FREITAS, Maria Tereza.Vygotsky & Bakhtin. In: Psicologia e Educação: um intertexto. 2. ed. São Paulo: Ática, 1995.
FREITAS, Maria Tereza.Vygotsky & Bakhtin. No fluxo dos enunciados, um convite à pesquisa. In: Freitas, M. T.; Ramos, B. Fazer pesquisa na abordagem histórico-cultural: metodologias em construção. Juiz de Fora: Editora UFJF, 2010.
GALEMBECK, Paulo de Tarso; COSTA, Nonalíssia Silva da. Alternância e participação: a distribuição de turnos na interação simétrica. In: CELLI – Colóquio de Estudos Linguísticos e Literários, v. 3, 2007, Maringá. Anais... Maringá, 2009.
GALEMBECK, Paulo. O turno conversacional. In: PRETI, D. Análise de textos orais. São Paulo: FFLCH/USP, 1993.
GARFINKEL, H. Studies in ethnomethodology. 2. ed. London: Routledge Press. Portuguese translation by Editora Vozes, 1967.
GERALDI, J. W.; FICHTNER, B.; BENITES, M. Transgressões convergentes Vigotski, Bakhtin, Bateson, Campinas: Mercado de Letras 2006.
GERALDI, João Wanderley (Org.). O texto na sala de aula. São Paulo: Ática, 2006.
GERALDI, João Wanderley. Ancoragens: estudos bakhtinianos. São Carlos: Pedro & João Editores, 2010.
GHIRELLO-PIRES, C. S. A (org.). Linguagem e T21: reflexões à luz da Neurolinguística Discursiva (ND) e Teoria 2020 Histórico-Cultural (THC).1. ed. – Curitiba: Appris, 2020.
GHIRELLO-PIRES, C. S. A.; LABIGALINI, A. P. V. Síndrome de Down: funcionamento e linguagem. In: COUDRY, M. I. H.; FREIRE, F. M. P.; ANDRADE, M. L. F. A.; SILVA, M. A. Caminhos da neurolinguística discursiva: teorização e práticas com a linguagem. Campinas: Mercado Livre, 2010.
GHIRELLO-PIRES, C.S.A.; BARROCO, S.M.S. Constituição histórico-cultural do processo de aquisição de linguagem em indivíduos com síndrome de Down. Plures Humanidades, [S.l.], v. 18, n. 1, p. 05-27, 2017.
GÓES, M. C. R. de. A abordagem microgenética da matriz histórico-cultural: uma perspectiva para o estudo da constituição da subjetividade. Cadernos Cedes, Campinas, v. 20, n. 50, p. 9-25, 2000. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0101-32622000000100002 >. Acesso em: 22 jun. 2020.
GOMES, A. L. Leitores com Síndrome de Down: a voz que vem do coração - Fortaleza: Imprensa Universitária, 2014.
GUNN. Estimulação e Atividade Motora da Síndrome de Down: queimaduras e armas. Herder Editorial,1995.
GONZÁLEZ REY, F. Ideias e modelos teóricos na pesquisa construtivo-interpretativa. In: MITJÁNS MARTÍNEZ, A.; NEUBERN, M; &MORI, V. D. Subjetividade contemporânea: discussões epistemológicas e metodológicas. Campinas SP: Alínea Editora, 1989.
HILGERT, José Gaston. A construção do texto “falado” por escrito na Internet. In:
PRETI, Dino (org.). Fala e escrita em questão. São Paulo: Humanitas, 2001.
HYMES, D. On Communicative Competence. In PRIDE, J. B. e HOLMES, J. Sociolinguistics. England: Penguin Books, 1972.
ILARI, B. A música e o cérebro: algumas implicações do neurodesenvolvimento para a educação musical. Revista da ABEM, Porto alegre, v.9, p.7-16, set. 2003.
JAKUBINSKIJ, Lev. Sobre a fala dialogal. São Paulo: Parábola Editorial, 2015.
JOBIM E SOUZA, S., & Castro, L. R. Pesquisando com crianças: Subjetividade infantil, dialogismo e gênero discursivo. In S. H. V. Cruz (Org.), A criança fala: A escuta de crianças em pesquisas (pp. 52-78). São Paulo: Cortez, 2008.
KEBRAT-ORECCHIONI C. Análise da Conversação – Princípios e Métodos, Tradução: Piovenzani Filho C São Paulo: Parábola Editorial, 2006.
KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. O texto e a construção dos sentidos. 9ª Ed. São Paulo: Contexto, 2007.
LÉVY, Piérre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999.
LEITE, Ana Mafalda. Oralidades e Escritas pós-coloniais: estudos sobre literaturas africanas. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2012.
LIMA, Ivonaldo Leidson Barbosa; DELGADO, Isabelle Cahino; CAVALCANTE, Marianne Carvalho Bezerra. Relação entre a matriz linguística multimodal e a atenção conjunta de criança com síndrome de Down. Revista do Gel, v. 15, n. 1, p. 85-99, 2018.
LINK, D. C. A narrativa na Síndrome de Down. Dissertação (Mestrado em Linguística de Língua Portuguesa). Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2002.
LURIA, A. R. Fundamentos de Neuropsicologia. Tradução de Juarez Aranha Ricardo. Rio de janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora, S.A. São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo, 1984.
LURIA, A. R. Desenvolvimento Cognitivo: seus fundamentos culturais e sociais. 8a. ed. São Paulo: Ícone, 2017.
MARCUSCHI L. A. A Repetição na Língua Falada: Formas e Funções. 1992.
MARCUSCHI L. A. Oralidade e ensino de língua: uma questão pouco “falada”. In: Dionisio AP, Bezerra MA (Orgs.). Livro didático de português: múltiplos olhares. Rio de Janeiro: Lucerna; 2001.
MARCUSCHI L. A. Da fala para a escrita: atividade de retextualização. 7. Ed. São Paulo: Cortez, 2007.
MARCUSCHI L. A. Análise da conversação. 5. ed. Série Princípios. São Paulo: Ática, 1997.
MARCUSCHI, Luiz Antônio; XAVIER, Antônio Carlos (orgs.). Hipertexto e gêneros digitais: novas formas de construção de sentido. Rio de Janeiro: Lucerna, 2004.
MARQUES, A. N.; DUARTE, M. O trabalho colaborativo: uma estratégia de ensino na aprendizagem de alunos com deficiência intelectual. Revista de Ciências Humanas, v.14, n.23, p.87-103, 2013.
MENEGASSI, R.J. Práticas de avaliação de leitura e a formação do leitor: reconstruindo conceitos no professor. In: R.M.D. ZOZZOLI (org.), Leitura. Revista do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística, 2008.
MENEGASSI, R. J. A internalização da escrita no ensino fundamental. In: ANTONIO, J. D; NAVARRO, P. (Org.). O texto como objeto de ensino, de descrição linguística e de análise textual e discursiva. Maringá: Eduem, 2009.
MIOTELLO, Valdemir (Org.). Dialogismo: Olhares, Vozes, Lugares. São Carlos: Pedro & João Editores, 2011.
Murata, K. Intrusive or cooperative? A cross-cultural study of interruption. Journal of Pragmatics, 21, 1994.
NEWMAN, F; HOLZMAN, L. Lev Vygotsky - Cientista revolucionário. São Paulo, Ed. Loyola, 2001.
NOVAES-PINTO, R. Dificuldades de encontrar palavras e produção de parafasias nas afasias e nas demências: Inferências para o estudo da organização e do acesso lexical Manuscrito não-publicado, Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas, SP, 2008.
OMOTE, Sadao. Perspectivas para conceituação de deficiências. Revista Brasileira de Educação Especial, v. 2, n. 4, 1996.
PINO-SIGARDO, Angel. A psicologia concreta de Vigotski: implicaçőes para a Educaçăo. Psicologia da Educaçăo, Săo Paulo, 1999.
PIMENTEL, S. C. História em quadrinhos: uso e potencialidades na
formação de leitores. Revista Acolhendo a Alfabetização nos Países de Língua Portuguesa, Brasil, São Paulo, volume 1, nº. 11, pp. 49 – 76, Set. 2011. Disponível em: http://www.acoalfaplp.ne>. acesso em 20 de jun. de 2020.
PIMENTEL, S.C; PIMENTEL, M. C. Acessibilidade para inclusão da pessoa com deficiência: sobre o que estamos falando? Rev. FAEEBA – Ed. e Contemp., Salvador, v. 26, n. 50, p. 91-103, set./dez. 2017.
PONZIO, Augusto. Pensamento e palavra em Lev S. Vigoski. Fórum linguistic., Florianópolis, v.13, n.4, p.1 550 - 1 5 5 8, out. / dez. 2016.
PONZIO, A. No Círculo com Bakhtin. São Carlos: Pedro & João Editores, 2013.
PONZIO, A. Procurando uma palavra outra. São Carlos: Pedro & João Editores,
PONZIO, A. A revolução bakhtiniana: o pensamento de Bakhtin e a ideologia contemporânea. São Paulo: Contexto, 2008.
PRETI, Dino. Procedimentos e recursos discursivos da conversação. In PRETI, Dino (org.) Estudos de Língua falada – variações e confrontos. 2. ed. São Paulo: Humanitas, FFLHC/USP, 2002.
SACKS, H.; SCHEGLOFF, E.; JEFFERSON, G. A Simplest Systematics for the Organization of Turn Taking for Conversation. Language. v 50, n. 4, 1974.
Sampedro, M., Blasco, G., & Hernández, A. Capítulo X - A Criança com Síndrome de Down. Em R. Bautista, Necessidades Educativas Especiais. Lisboa: Dinalivro, 1997.
SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de Linguística Geral. Trad. Antônio Chelini, José Paulo e Izidoro Beinkstein. São Paulo; Cultrix, 1975.
SILVA, L A. O diálogo professor/aluno na aula expositiva. In: PRETI, Dino. Diálogos na fala e na escrita. São Paulo: Humanitas publicações, 2005.
SCHROEDER, E. A teoria histórico-cultural do desenvolvimento como referencial para análise de um processo de ensino: a construção dos conceitos científicos em aulas de ciências no estudo de sexualidade humana. 2008. 388 f. Tese (Doutorado em Educação Científica e Tecnológica) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008.
SILVA, Lucas N. Análise Dialógica da Argumentação: a polêmica entre afetivossexuais reformistas e cristãos tradicionalistas no espaço político. Tese, Salvador, 2018.
TOURAINE, Alain. Poderemos viver juntos? Iguais e diferentes. Petropolis: Vozes, 1998.
URBANO, H. Marcadores conversacionais. In: PRETI, D. (org.) Análise de textos orais. São Paulo: FFLCHUSP, 1993.
VALSINER, J.; VAN DER VEER, R. Vygotsky, o pedólogo (Cap. 12). In: VALSINER, J.; VAN DER VEER, R. Vygotsky: uma síntese. São Paulo: Loyola: Unimarco, 1996.
VIGOTSKI, L. S. Psicologia pedagógica. São Paulo: WMF, 2016.
VIGOTSKI, L. S. A defectologia e o estudo do desenvolvimento e da educação da criança anormal. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 37, n. 4, p. 861-870, jan./dez. 2011.
VIGOTSKI, L. S. A construção do pensamento e da linguagem. São Paulo: WMF, 2010.
VIGOTSKI, L. S. Teoria e método em psicologia. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
VYGOTSKI, L. S. Obras escogidas V: fundamentos de defectologia. Madrid: Machado Libros, 1997.
VIGOTSKI, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
Arquivos adicionais
Publicado
Edição
Seção
Categorias
- Linha de Pesquisa 2 - AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA LINGUA(GEM) TÍPICA E ATÍPICA
- Orientadora: Profa. Dra. Carla Salati Almeida Ghirello-Pires
- Projeto Temático: Aquisição e desenvolvimento da fala, da escrita e da leitura de sujeitos com síndrome de Down e de sujeitos com transtorno do espectro autista
Licença
Copyright (c) 2024 PPGLin e autora

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.